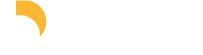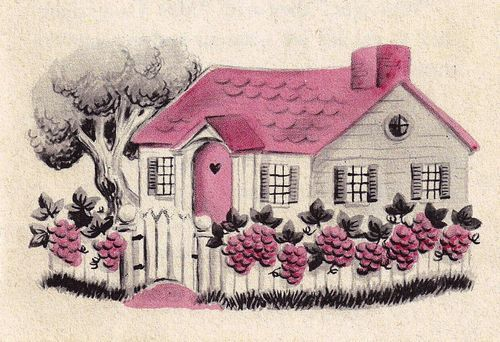
VELHA CASINHA ROSA
Vivi dentro daquele sítio, morri ali. Meu corpo, vida, alma, eternamente impregnados. Em tudo – na piscina com cascata sem mais uso; nos brinquedos abandonados no porão; na mesa de sinuca e ping pong caindo aos pedaços; na mata correndo, rindo, brincando; nos cavalos que olhava admirada meus heróis montarem; no cheiro de bolo assado e pão caseiro – minha vida ficou guardada nesse Deja Vu de momentos.
Andando naquela casa mágica, passado, presente e futuro se entrelaçam em um só.
Quando se é criança tudo parece gigante: a casa gigante, os cavalos e éguas são gigantes, a mata e as árvores tão grandes que engolem a luz, o parquinho imenso ao lado da casa gigante.
Lembro-me de quando, ao invés de medo da solidão, assustava-me o escuro. Lembro-me quando o parquinho abandonado ao lado da casa principal era apenas o parquinho enorme ao lado da casa maior ainda.
Eu e meu louco e herói avô fomos a uma viagem de aventura para comprar aquele parquinho. Recordo-me de admirar, pela primeira vez, encantada, os balanços de cavalos gigantes, aquilo era lindo. Hoje, já velhos, dois dos quatro cavalinhos caíram e todos lamentam a falta de vida.
Na gigante área ao lado da enorme casa foi colocado o incrível parquinho. Duas gangorras e dois balanços amarelos, um pequeno e medonho trepa-trepa. O colossal escorrega formado por duas torres – uma com a escada e outra com o escorregador – que era ligado por uma ponte de bambu feita pelo meu herói-avô. E o principal, os gigantes balanços de cavalos que galopavam com força: a vista do topo, o vento batendo na cara, eu e meu cavalinho bola de fogo em meio ao Velho Oeste. Naquele lenga-lenga da infância passaram-se dias. Meses. Anos. Risadas e brincadeiras que ali ficaram marcadas.
Eu e meu louco herói-avô, hoje louco e doente, brincávamos sem parar. O parquinho era vivo, ganhava cores e histórias com as crianças alegres, cada uma deixando sua marca.
Mas o melhor era a linda casinha de madeira que tinha ao lado do grande parquinho. Tinha sido um presente de minha carinhosa caridosa avó. Era gigante para mim, pequena e risonha menina. Rosa, toda rosa com detalhes delicados de branco, como os diversos corações entalhados pelas janelas, telhado e porta. Com três janelinhas, uma adorável porta, energia elétrica e uma pequena varanda onde ficava um banquinho – eu passava horas sentada ali, brincando de decifrar o mundo – fiz meu lar, só meu.
A moradia cor de rosa ficava na parte mais bonita do sítio: de frente à grama verde, folhas e flores coloridas do jardim de minha carinhosa avó, ao lado do pequeno lago de carpas com a fonte de anjinho.
Passei dias e vidas brincando de escolinha ali. As aulas eram dentro da casa, e quando batia a fome eu estendia o antigo lençol na verde grama, juntava todas minhas alunas-bonecas para um café da tarde, cheio dos lanchinhos que minha avó fizera. Hoje contemplo os destroços da casinha rosa em busca de resgatar o que já fui ali. Aquela boa velha época foi o mais próximo de vida já vivida por mim. Nunca conheci a paz – nasci, cresci, vivi e viverei em guerra. Fui criada e ensinada a ser soldado, mas, mesmo em meio a tanta dor, aquela vida simples de inocente criança era boa demais.
O amor de minha amada família hoje é só memória. O lindo grande parquinho deteriorou-se à medida que nossas vidas apodreciam. Minha carinhosa e caridosa avó anda pelos cantos como fantasma. Meu herói-avô, hoje louco e doente, desaparece a cada dia com a doença do esquecimento. Meu grande e eterno pai morreu em mim, quando morri criança.
(Rafaela Carvalho De Avila)
O SILÊNCIO

Seu Jorge beijou a testa da esposa e deslizou para fora de casa. Mais um dia começava para a família Silva. O açougueiro partia cinco da manhã para, com sorte, chegar ao trabalho às sete. Como sempre dizia à Maria: “Vida de pobre é foda, mas fazer o que, né, meu bem.” Ela apenas assentia. Sabia que a sina era essa: pais de pobre, filhos de pobre, netos de pobre…
Maria foi acordar os meninos para a escola. Entrou no quarto já acendendo a luz com um clique e gritando o nome dos filhos. O mais velho, José, levantou-se num pulo automático, enquanto Paulo permanecia deitado. A mulher se aproximou do menor, sentou-se na beirada da cama de varas: “Filho, tu vai se atrasar. Levanta logo,” disse ela, forçando a paciência. Paulo era especial, mais sensível e ela era obrigada a ser delicada, mesmo que nunca tivesse tido um exemplo de delicadeza na vida.
José seguiu a rotina: banho rápido, uniforme amassado e um pão com manteiga feito às pressas para comer no ônibus. Pronto para sair, perguntou pelo irmão:
“Cadê o Paulo? Tá fazendo manha de novo?” “Ele tá quieto, no mundinho dele. Melhor evitar confusão. Hoje ele fica comigo.”
José assentiu, já saindo para não perder o ônibus, deixando Paulo mergulhado no sono e a mãe com o dia a enfrentar.
O dia de Maria começava de verdade ali. Pegou a vassoura, o pano e o balde. A mulher não gostava de ficar parada, evitava pensar. Seu pai sempre lhe dissera que pensar era “coisa de gente branca e desocupada”, o povo pobre precisava era trabalhar, pois tempo parado pensando era tempo perdido, logo, era menos comida na mesa. A rotina era tão massacrante e ela reprimia suas angústias com tanta profundidade que, com os anos, esqueceu-se de descansar. Estava exausta, mas a velocidade do dia a dia e a angústia de garantir o prato dos filhos não lhe permitiam a pausa.
Naquele dia, porém, o corpo gritou. Ela estranhou a exaustão repentina – as pernas tremiam, os olhos pesavam, o corpo pedia por descanso. Mas não se daria àquele luxo. Tomou um banho rápido para “ver se melhorava” e logo voltou ao trabalho, agora era a costura.
Linha aqui, agulha ali. Depois de consertar três vestidos de clientes, Maria se rendeu. Era feliz? Não importava. Ela tinha que ser feliz, era obrigada a ser para os filhos. Mas agora, depois de tantos anos sem parar, era a hora de um cochilo, seria rápido, logo acordaria – afinal, tinha muito trabalho a fazer. Deitou-se no sofá, ligou a velha televisão de tubo em um canal qualquer e, em menos de cinco minutos, capotou.
Paulo acordou com fome. Levantou-se e foi à cozinha. A geladeira, como sempre, estava quase vazia: sobras do jantar, um pouco de leite, alho e maçãs. No armário, achou um último pacote de bolacha, que comeu voltando para o quarto. O pequeno vivia em seu mundo particular, alheio às coisas ao seu redor. Amava a mãe. Não se preocupava, pois ela o protegeria, sempre estaria ali.
Por volta das dezessete horas, José voltou da escola. Estava cansado, mas o sangue jovem lhe dava energia. Ao entrar, estranhou o silêncio — apenas o ruído baixo da televisão — e a ausência da mãe na mesa de costura ou na cozinha preparando as encomendas de doces. Quando foi desligar a TV, encontrou Maria deitada no sofá. “Coitada, tão cansada” ele pensou e a deixou dormir.
Assim se deu o anoitecer: a mãe adormecida no sofá, os filhos brincando no quarto, rabiscando monstros e heróis em folhas velhas com seus lápis fracos.
Quando Seu Jorge chegou, o cansaço pesava. Foi direto para o quarto, trocou de roupa e foi até o cômodo dos filhos.
“Bênça, pai“, e os meninos receberam: “Deus lhe abençoe meus filhos. Onde tá a mãe de vocês?” “Tá dormindo no sofá,” respondeu José, sem tirar os olhos do desenho. “Dormindo? Ela tá bem?” “Quando eu cheguei da escola ela já tava lá.”
Ao ver a esposa deitada, resmungou: “Que folga, hein, queria eu poder fazer o mesmo.” Estava exausto e faminto. Tomou um banho rápido e, ao sair, decidiu acordá-la para que esquentasse o jantar.
Jorge parou diante da mulher deitada: “Maria, acorda mulher.” Ele cutucou-a, falando com seu jeito bruto habitual: “Que folga, hora de acordar, Maria. Levanta!”… Nenhuma resposta.
José e Paulo, no quarto, pararam de rabiscar ao ouvir o barulho da voz do pai. De repente, um grito na sala.
Jorge gritava desesperado, chacoalhando o corpo da esposa: “Maria! Responde, meu amor, acorda, Maria!”
Os meninos correram para a sala. Paulo começou a chorar no instante em que viu a mãe. Ele não entendia, mas, no fundo, a criança sentia a tragédia. José correu para o lado do pai, perguntando, com medo, o que estava acontecendo.
Aos poucos, os gritos de Jorge diminuíram, dando lugar a um choro doloroso.
“Filho… sua mãe está morta.”
(Rafaela Carvalho De Avila)